Curitiba, 13 de janeiro de 2023.
Enfim, terminamos de assistir Aftersun - o que, nem foi, assim, um enfim, tendo o filme sido dividido em apenas duas partes, que contemplaram domingo e terça (novas modalidades). Eu, no entanto, ainda estou (no momento em que escrevi; agora, enquanto reviso; certamente, amanhã, na hora de enviar; e, possivelmente, no futuro, ao me deparar com essas páginas novamente) com tantos ecos a respeito, que só mesmo o cansaço de um dia de semana para me impedir de sentar e escrever sobre as impressões, no exato instante em que desligamos a tv do pub.
Para além da estética lindíssima, o tipo de fotografia que me atrai (não que eu entenda grande coisa de cinema ou fotografia, não se iluda; só sei que me atrai, que me salta aos olhos), o filme te deixa em suspenso o tempo todo. Aquela mesma sensação que temos quando o carrinho da montanha-russa termina de subir e pára, repentinamente, antes de começar a descer. Ou aquele microssegundo exato, que precede a entrada em um banho muito frio, ou um mergulho. Puxamos o ar com tudo o que temos e seguramos um tico, quase que involuntariamente, antes que sejamos submersos e forçados a só expirar. E, eu só estou certa de que não vi o filme com a respiração interrompida porque, bem. Nem em duas partes isso daria (especialmente com o meu cardio atual, de sedentária… Não mais!).
O filme é um daqueles clássicos tipos que o Lu detesta, embora diga que não - “eu só preciso que me expliquem depois”. Então, para quem está procurando uma história tradicional, com enredo redondinho, começo, meio e fim, já fica o spoiler: não vai rolar. Aliás, spoiler é uma coisa que tem rolado muito sobre o filme e, foi quase impossível me manter incólume diante de tantas impressões, que suscitaram a minha curiosidade - as quais volto, agora, saborear com apreço, numa tentativa de estender o retrogosto deixado (partilho todas ao final).
Ainda assim, não é exatamente sobre o filme que gostaria de falar - prolixa demais, com talento de menos, para resenhas. Mas, sobre as sensações despertadas em mim.
Chorona de carteirinha, não derrubei uma só lágrima durante todo o rolar da película, o que, de certa forma, me surpreendeu bastante, haja vista os relatos de tsunamis pessoais (o que talvez tenha sido a sertralina e, bem, sei lá…). No entanto, foi a tela escura, que precede os créditos, se impor, para que, tal qual o ar aflito que puxamos depois de um longo mergulho e que nos rasga, ardido, o pranto correr solto pelo meu rosto, meu pescoço, meu colo, molhando a gola cavada do pijama.
Embora em minha juventude e adultez tenha me deparado com uma série de desafios relacionados à perda de entes amados e muito próximos, acho que somente no ano passado, diante daquela intensidade, loucura indescritível (indescritível para meros mortais. Eu, tentei; mas foi a Paulinha, deusa das palavras, que destruiu ♥️) que é parir um filho, que me deparei com a finitude da vida, de cada um de nós. Que me dei conta que, o tal tempo, que por vezes, numa tediosa segunda-feira de trabalho, desejamos que corra mais rápido, não volta - sábia natureza por nem sempre (“quase nuuuuunca” 🎶 - só os medianerds ON) atender aos nossos desejos. Ali, diante do começo mais evidente que já vivenciei, também, senti o peso do final se impor - talvez por me despedir de uma velha eu, reforçando o mais típico clichê materno; ou, simplesmente, por estar diante do encerramento de tantas antigas convicções.
“Morte é o que sinto. E isso não é ruim. Gosto da sensação de fechar ciclos, mas de fechá-los olhando-os de frente, encarando os erros e acertos que embarquei, entendendo que só o medo impede a vida em plenitude.
Já ensinou uma sábia no dia do seu aniversário: “Não tenho 75 anos. Se tiver sorte, tenho 15. Os 75 já se foram.”
Cada dia que amanhece não voltará, aquela que um dia fui, já morreu. Do ponto onde me encontro podem nascer outras versões de mim. Tantas eu permitir que ganhem vida.
A fruta corresponde à semente plantada. O que fomos já passou, já se plantou, já se colheu. E ainda nos restam muitas sementes na palma da mão. Mas não sabemos quanto tempo teremos para plantar.
É pura ilusão acreditar que a morte virá numa data determinada, quando adoecermos ou ficarmos velhos. A gente morre mesmo é no final de todo dia, no apagar da vela e no cair da noite.”
(Eliana Rigol, em ‘Os fins estão contidos nos começos’ no Moscas no Labirinto).
Estaria mentindo se dissesse que tal ‘dar se conta’ não me assusta. Sedenta de vida desde rebenta, como a minha mãe escreveu em meu livro de bebê e a minha avó tinha gosto de repetir, a simples ideia do fim me é motivo de, na falta de palavra melhor ou sentimento mais profundo, verdadeiro pânico (e, me ocorre aqui a velha divagação de meu avô, super católico - seríamos todos carentes de fé por temer a morte?). Mas, assistir, como voyeur, talvez a última viagem de pai e filha - e a simplicidade do desfrute da companhia um do outro, apesar dos dilemas individuais (para além do “UOW! Estamos na Turquia”; mas: a traquinagem de jogar uma bolinha [de papel?!] nos dançarinos de Macarena; a troca de olhares pré-arte; a risada solta que acompanhou a corrida, depois…), me fez pensar nas últimas vezes. Não as despedidas, previamente declaradas. Aquelas não anunciadas, não planejadas, que nos atropelam numa quarta-feira de manhã, sem que sejamos avisados, com uma boniteza que nem sempre damos conta e bem. Estava ali e não mais.
Em tempos de sermos seres tomados por telas, consumidos por timelines rolantes - enquanto rolam, também, os dados da vida, escorrem os minutos, qual o valor de estarmos presentes a todo momento? Estarmos de olhar apurado, de sentidos a flor da pele, de absorvemos o mais simples sorriso, em nossa incompreensão e inocência, mas em nossa integralidade, sem saber que neste conteria, em pouco, talvez, um anúncio fatalista?
Existe uma solução, uma fórmula mágica, que nos relembre, continuamente, do valor e importância do agora (que já passou - quase que só de pensar, estamos já no passado ou no futuro; coisas que só, ou nem, a física quântica e boa dose de subjetividade nos fariam entender? - ou tentariam. Ou nem isso)? Não vejo (embora desconfie que algumas religiões orientais, tais quais o budismo, preguem valores dessa ordem e proponham vivências desse tipo…).
No entanto, como exercitar o olhar para a presença? A filmagem mental das experiências banais? Há maneira de gravar, na alma, um dia comum - o café da manhã de uma terça-feira, tomado de pé, com conversa e chamego; o beijo de boa noite antes de colocar o bebê no berço; o cafuné e aconchego de um filme partilhado no sofá? A última dança - não a ideia de tudo isso, mas o real momento, as reais sensações?
“Can't we give ourselves one more chance?
Why can't we give love that one more chance?
Why can't we give love, give love, give love, give love
Give love, give love, give love, give love?
'Cause love's such an old-fashioned word
And love dares you to care for
The people on the edge of the night
And love dares you to change our way of
Caring about ourselves
This is our last dance
This is our last dance
This is ourselves”
(Under Pressure - David Bowie e Queen)
Mais: como dançaríamos a última dança, sabendo que não haveria mais?
Ecos a mais, para quem, como eu, teme os finais…
“Descobri” Aftersun, como muitas das minhas descobertas culturais, na coluna do Irinêo do Jornal Plural, que me tentou a correr pro cinema…
“Aftersun é um filme de sensações. Quer dizer que ele está mais interessado em fazer você sentir coisas e menos em simplesmente narrar uma história que saia do ponto A para chegar no ponto B.”
A
, na versão da para assinantes, trouxe Aftersun para 'O inventário de uma obsessão'.“Uma narrativa melancólica, de observação. Costurada a partir de imagens gravadas numa câmera caseira e de lembranças parciais dos dias de férias que pai e filha compartilharam na Turquia. […] O pai, Calum, não está bem. E Sophie não suspeita da dimensão dessa angústia. Somente quando adulta é que vai revisar aqueles dias. Buscar respostas. De um pai que sempre lhe escapa.”
Por ela, descobri também a leitura do
, do , que falou profundamente sobre outro tema que adoro e permeia o filme como um todo: memória.“As memórias de Sophie a respeito do pai não a redimem em sua dor, mas o fazem alguém infinitamente maior pela empatia que ela, no futuro, lhe devota, compreendendo-o, ou tentando, até os limites da memória, em sua dimensão de homem, pai, jovem num país quebrado, um mundo partido.”
O
escreveu sobre Aftersun e o elencou como um dos favoritos do ano ou...“filmes […] que melhoraram 2022
Para sabores complementares e novos ecos: a
colocou o filme, junto de outros, no #23, de férias: na praia. E prometeu que este virará um texto completo, logo, logo. Dela, até a lista de supermercado (como diria John Green) - inclusive os outros também já foram para a minha lista de janeiro...“Enquanto nós vemos suas andanças pelas paisagens litorâneas, uma Sophie adulta também reassiste as filmagens daquela viagem, relembrando e tentando entender seu pai e a relação entre eles. […] Um dos melhores filmes que assisti no ano passado e outro que também estará em breve nas nossas Andanças.”
com carinho (e certa vontade de ver Aftersun de novo e de novo),




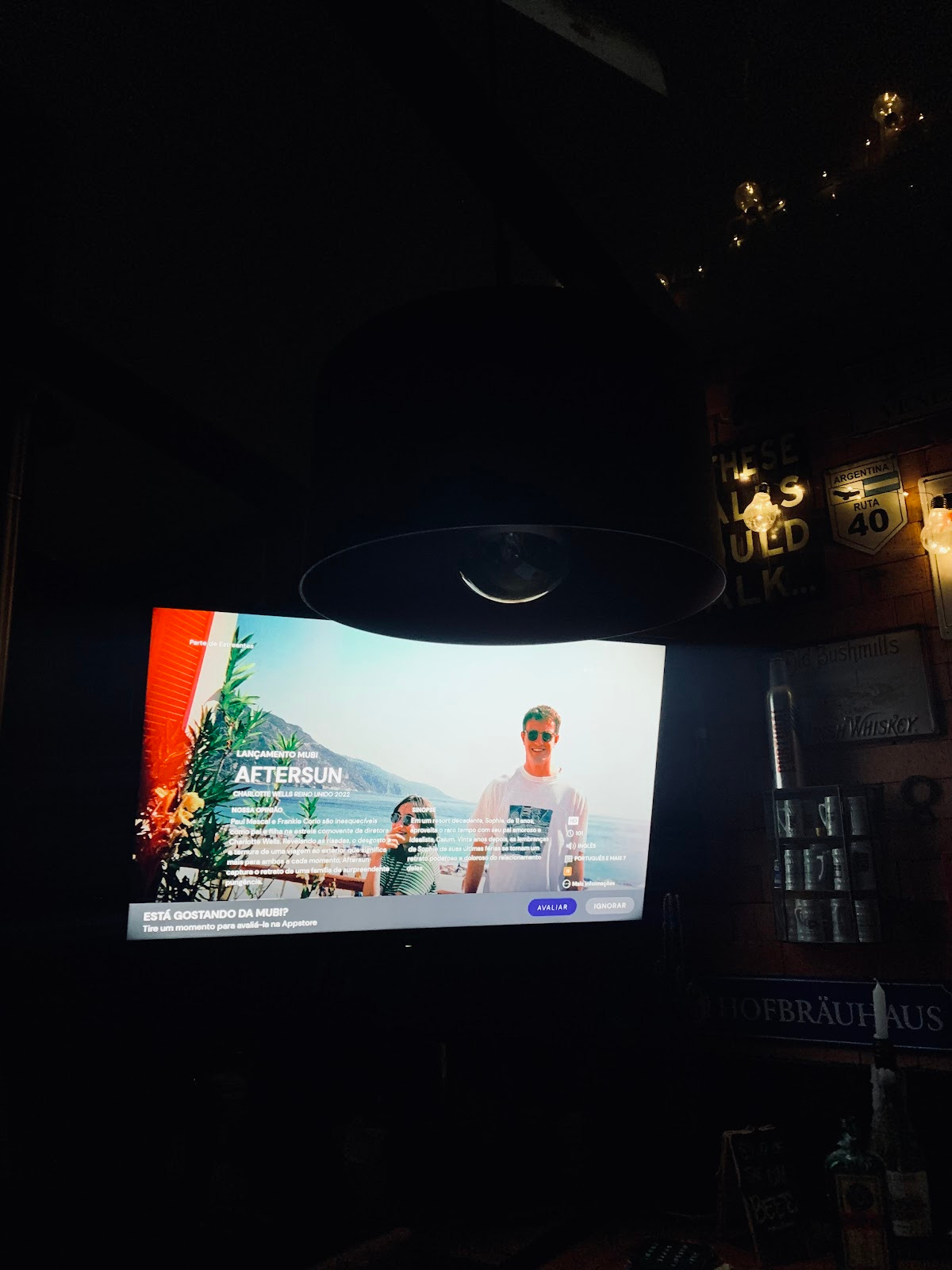
Esse filme me tirou lágrimas também ao final. E ainda não sei o que fazer de mim depois dele. Se eu já gostava de under pressure (Das únicas músicas que amo do Queen), agora o sabor dela é ainda mais agridoce.
Me identifiquei completamente com a sua experiência Mariana! Passei o filme todo absorvendo e as lágrimas vieram em torrente só depois que eu sai da sala do cinema (o que definitivamente não é algo que costuma acontecer haha mas acho que esse é mais um dos efeitos que o filme causa na gente né?).
Lindo demais o seu texto relacionando o filme com a finitude da vida e a importância do presente. Eu amei!
E muuuuito obrigada por me citar nos links com tanto carinho <3 (boatos que o texto de Aftersun sai na semana que vem! haha)